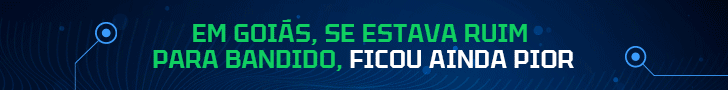‘A Yakuza virou minha família’: a artista que viveu no submundo da máfia japonesa para retratar suas mulheres

Tudo começou em uma noite de embriaguez, 15 anos atrás, em um bar de Paris.
“Minha amiga e eu estávamos desoladas porque havíamos rompido com nossos namorados. Bebemos muito vinho e dissemos ‘vamos para longe, para o Japão’, mas poderia ter sido para qualquer outro lugar”, conta a fotógrafa Chloé Jafé, nascida em Lyon, na França, em 1984.

E ela foi. Um mês de viagem a levou da total indiferença à fascinação pela cultura japonesa. E ela decidiu repetir a experiência.
“Na minha segunda viagem, pensei ‘na próxima vez, fico por aqui’. Eu sentia que tinha algo a fazer aqui, mas não sabia o quê”, relembra ela.
Enquanto mergulhava na cultura japonesa, desde filmes antigos sobre samurais até séries, romances e quadrinhos, Jafé começou a ser atraída pelo submundo do crime organizado, representado no Japão pela Yakuza – a máfia.
“De certa forma, é atraente”, afirmou ela à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.
Mulheres em um mundo de homens
Dividida em grupos ou sindicatos, nos moldes da máfia italiana, a Yakuza opera em todo tipo de negócios ilegais, que incluem desde jogos de azar, drogas e prostituição até agiotagem, redes de extorsão e crimes do colarinho branco.
Seu nome tem origem nos números 8, 9 e 3 (em japonês, ya, ku e sa). Esses números compõem a pior jogada possível de cartas de baralho no Japão. Por isso, seus membros consideram o termo pejorativo.
Eles preferem as denominações gokudo (“o caminho extremo”) ou ninkyo dantai (“organização honrada ou cavalheiresca”).
As origens da Yakuza remontam ao século 17, mas seu auge foi na segunda metade do século 20, com o florescimento do submundo causado pelo vertiginoso desenvolvimento econômico japonês após a Segunda Guerra Mundial.

Mas a modernização da sociedade japonesa e a perseguição policial dizimaram a Yakuza. Ela chegou a ter mais de 200 mil membros na década de 1960, mas em 2021 eram pouco mais de 12 mil, segundo estimam as forças de segurança.
E esses membros têm uma característica em comum: todos são homens.
“Percebi que não havia mulheres e me perguntava por quê”, relembra Jafé. “‘Certamente deve haver mulheres, apenas não se fala sobre elas’, pensei.”
Até que Chloé Jafé descobriu o romance autobiográfico Yakuza Moon, de Shoko Tendo, que relata a adolescência difícil da autora como filha de um gângster japonês.
“Eu me senti muito próxima dessa realidade e pensei: ‘este é o meu trabalho, preciso encontrar essas mulheres e fazer alguma obra visual com elas'”, ela conta.
Quando terminou o livro, Jafé decidiu viajar novamente para o Japão – desta vez, para instalar-se no país e retratar as mulheres da Yakuza.
Encontro decisivo
No início de 2013, Jafé passou a morar na capital japonesa, Tóquio, sem ter nenhum contato, nem conhecimento do idioma japonês – que é de difícil aprendizado, em parte porque sua escrita combina três alfabetos totalmente distintos.
“Era o meu projeto e sou muito teimosa”, relembra ela. “Não sabia como, mas tinha que fazer aquilo. Eu sabia que não seria rápido, mas estava feliz por me dedicar a isso sem contar os dias.”
Dois anos se passaram até que, já com conhecimento razoável da língua japonesa, ela conseguiu um emprego de anfitriã.
As anfitriãs (ou kyabajo, “meninas de cabaré”) entretêm os clientes de clubes noturnos, normalmente homens de meia idade ou mais idosos, com quem conversam, cantam músicas no karaokê, servem bebidas e acendem cigarros.

Chloé define as anfitriãs como “uma espécie de geishas modernas”.
“Eu me envolvi totalmente com essas mulheres”, ela conta. “Algumas tinham o namorado ou o pai na Yakuza e esses clubes costumam também ser dirigidos por essa máfia. Foi um bom ponto de partida para ingressar nesse mundo.”
Mas sua oportunidade definitiva veio de dia, no meio da rua e por acaso, durante o festival xintoísta Sanja Matsuri, no tradicional bairro de Asakusa, em Tóquio.

“Sem saber como, acabei na rua de um chefe da Yakuza”, afirma Jafé. “Eu estava sentada e ele surgiu vestido com um quimono e dois guarda-costas. Eu não sabia quem era, mas parecia importante.” Ele era um oyabun, o capo da máfia japonesa.
Ele a convidou a sentar-se à sua mesa e Jafé ficou com seu número de telefone, com a desculpa de enviar-lhe fotos do festival.
“Eu enviei as fotos e o convidei para jantar alguns dias depois. Para ele, foi uma surpresa e eu, sinceramente, estava aterrorizada.”
Dentro da Yakuza
Rompendo com a tradição japonesa que atribui todas as iniciativas ao homem, ela escolheu o restaurante (“perto de uma delegacia de polícia e de uma estação de metrô, para o caso de eu precisar correr”) e ali o encontrou com seus guarda-costas.
Ela já falava bem o japonês, mas preferiu confessar suas intenções em uma folha de papel: “Sou uma fotógrafa francesa e quero fazer imagens de mulheres da máfia do seu país, de forma respeitosa e levando o tempo que for necessário. Preciso de sua ajuda para isso.”
A resposta foi positiva. “Ele me disse: ‘veja, posso apresentar você a pessoas desde Hokkaido [no norte] até Okinawa [no sul]”, relembra Jafé. Mas primeiro a artista precisou ganhar a confiança do chefe e das pessoas à sua volta.

“Ele brincou comigo por um tempo. Viu que eu era jovem e bonita e pensava se poderia ou não me usar para alguma coisa, comprovar quais eram minhas intenções… definitivamente, colocar-me à prova”, segundo Jafé.
Pouco a pouco, as pessoas começaram a convidá-la para eventos e reuniões da Yakuza.
“Seus guarda-costas vinham me buscar e eu não sabia onde iríamos nos encontrar. Era como em um filme. No começo, eu fazia perguntas, mas ele não respondia. Havia momentos tensos”, relembra ela.
A princípio, a esposa do oyabun desconfiava dela, mas acabou acolhendo Jafé e a convidou a passar as festas de Ano Novo com a família.

Ela conheceu a esposa de outro chefe, que foi a primeira retratada pelo projeto, e ampliou seus contatos com outras mulheres da Yakuza para fotografá-las.
“É horrível, mas… suspeito que algumas pessoas que talvez não quisessem ser fotografadas acabaram obrigadas a posar para mim, porque eu era amiga do chefe”, confessa Jafé.
Depois das primeiras sessões de fotografia em Tóquio, seguiram-se muitas outras em diversos lugares do Japão, como Osaka e no arquipélago subtropical de Okinawa.
E foi exatamente em Okinawa, onde o submundo do crime prosperou no século 20 em volta da maior base aérea dos Estados Unidos na região, que se desenvolveu uma das séries da trilogia de Chloé Jafé, Okinawa mon amour (“Okinawa, meu amor”, em tradução livre), que mostra o lado mais sombrio e marginal daquelas ilhas.
As tatuagens
A artista concentrou suas lentes especialmente nas tatuagens das mulheres da Yakuza.
“A máfia japonesa é interessante porque está muito vinculada à cultura tradicional do Japão, como no caso das tatuagens, que são relacionadas à mitologia. É quase uma máfia cultural”, afirma ela.

E, embora hoje não seja incomum ver pessoas com um dragão ou uma cobra na pele em qualquer lugar do mundo, no Japão a cultura das tatuagens e sua percepção é completamente diferente.
“Lá as tatuagens não são feitas para mostrar”, explica Chloé.

A sociedade japonesa desaprova as tatuagens por relacioná-las ao crime e à marginalidade. No Japão, é proibido exibir tatuagens em piscinas e em certos lugares públicos.
Para a Yakuza, elas simbolizam lealdade ao grupo e resistência à dor, já que elas costumam ser feitas com o método tradicional, com varas de madeira e agulhas, que é mais lento e doloroso.
Devoção como modo de vida
A primeira série da trilogia de Chloé Jafé chama-se “Dou a você minha vida”, que faz referência à devoção declarada aos homens pelas mulheres da Yakuza.
“Elas sabem que esses homens não são pessoas corretas e, se elas se unirem a eles, ficarão isoladas da sociedade para sempre, pois ninguém quer ter nenhuma relação com a máfia no Japão”, explica Jafé. “Mesmo assim, elas se envolvem com eles porque se apaixonam.”

E, embora não sejam membros oficiais, as mulheres desempenham papéis específicos, especialmente nos altos níveis da Yakuza.
“Quando você se casa com um capo, deve cuidar dos membros da máfia, conhecer seus dados pessoais, suas histórias e estar a par de tudo porque, se acontecer alguma coisa com seu marido, você precisa assumir o papel dele até que chegue o chefe seguinte”, explica Jafé.
Segundo sua experiência, a esposa de um oyabun “é a primeira-ministra da máfia, mas faz tudo pelas sombras, sempre por trás de tudo”.
A Yakuza é também um caminho de difícil retorno, especialmente para as mulheres.
“As mulheres que se divorciam dos membros da Yakuza ficam em uma posição difícil, porque nunca poderão sair de verdade”, afirma a fotógrafa.
“Elas perdem o apoio da máfia, mas, ao mesmo tempo, é quase impossível reconstruir suas vidas e reinserir-se na sociedade japonesa. Elas nunca podem sair do submundo.”
Muitas delas também se ocupam da administração dos clubes de anfitriãs, das contas e de outros negócios, legais ou ilegais, operados pela máfia japonesa.
Terminado seu projeto, Chloé Jafé regressou à França no final de 2019. E acredita que, depois de quase sete anos imersa nos porões da sociedade japonesa, não é mais a mesma pessoa de antes.
“Passei muito tempo com eles e nunca mais podia ser uma estrangeira no Japão. Sinto-me parte deles. Eu me sentia parte do grupo, queria honrar o chefe e sua esposa. Eles me acolheram como se fosse sua filha, de forma que se tornaram minha família no Japão”, conclui a fotógrafa.
Fonte: CNN Brasil